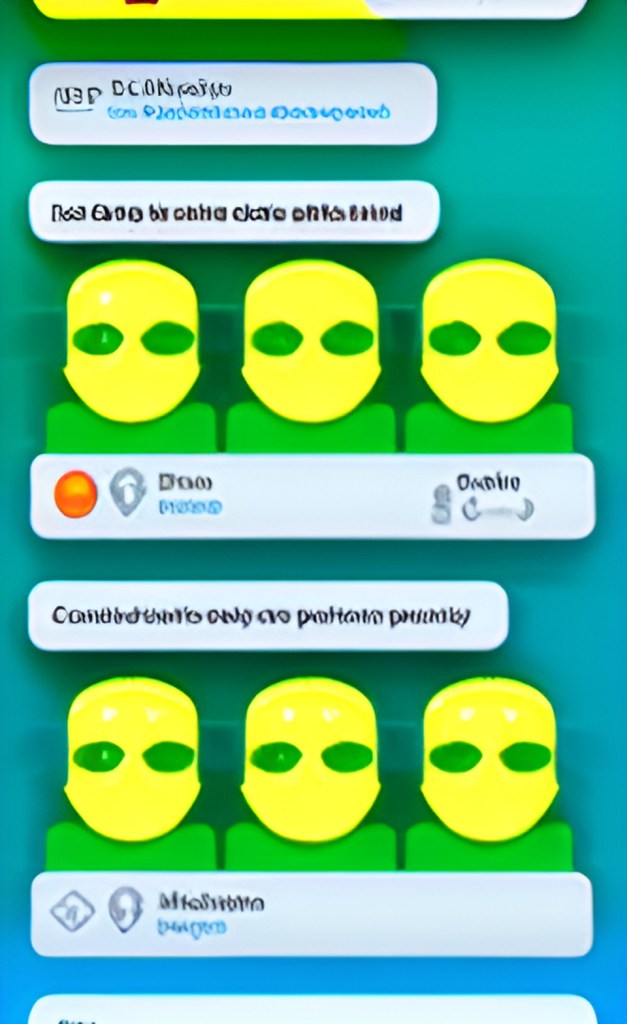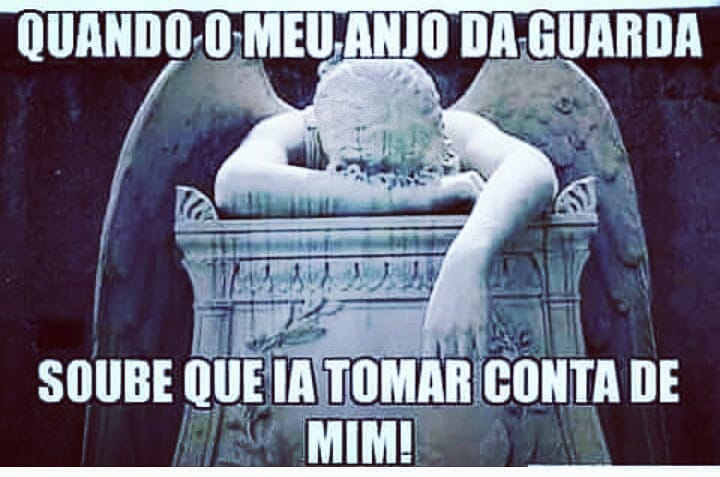Era 18 junho de 2013. Vesti minha camiseta polo e uma calça Calvin Klein. Calcei meu tênis Olympicus e dei os últimos retoques no meu topete, da mesma forma que fazia todos os dias antes de ir para a faculdade. Naquela data, porém, não ia estudar. Não era a primeira vez que matava aula, mas não ia ficar no barzinho em frente à faculdade, jogando bilhar, como era meu costume nessas ocasiões. Eu ia acompanhar o protesto de Araçatuba em apoio às manifestações políticas que estavam acontecendo naquele mês em todo o País.
Meu pai me ofereceu uma carona até a faculdade, mas disse que não precisava. Menti para ele que queria andar um pouco. Eu nem imaginava a longa caminhada que faria naquele dia…
Meus pais eram idosos e ficariam doidos se descobrissem minhas escapadas. E essa seria uma das piores delas. Não poderia decepcioná-los assim. Meus irmãos, muito mais velhos do que eu, já reclamavam o suficiente de que não foram tratados da mesma maneira quando tinham 18 anos.
Sai da minha casa no bairro Nova Iorque e fui até a rotatória da avenida Brasília. A noite começava a cair. O ar estava seco, mas a temperatura era até que agradável. Nem o tradicional calor infernal, nem o frio congelante do inverno araçatubense. O tempo ideal para uma passeata.
Ao chegar à rotatória, percebi que não havia o trânsito caótico comum daquele horário, porque todas as ruas ao redor estavam bloqueadas. Lá, encontrei meu amigo e colega da faculdade de jornalismo, Alan, que havia me convencido a participar daquele negócio.
— E aí, seu tratante — eu disse para ele.
— Ô doutor Marcos. Você veio! — respondeu Alan, oferecendo-me uma vuvuzela verde-amarela, que ele devia ter guardado da última Copa do Mundo. Eu a devolvi, dizendo que não queria aquela porcaria. Uma garota interrompeu nossa conversa, querendo pintar o meu rosto de verde-amarelo. Não aceitei também.
— Você precisa entrar no clima, cara — pediu Alan.
— Cadê ela? — perguntei. Só vim aqui porque você disse que ela viria. Se ela não aparecer, vou embora.
Não era contra, nem a favor do governo. Naquela época, achava que todos os políticos eram ladrões. Minha presença no protesto também não tinha nada a ver com a faculdade de jornalismo. Apenas havia escolhido o curso que tinha menos matemática na grade.
Estava ali porque o Alan me falou que a Dani participaria da mobilização e lá seria o melhor lugar para encontrá-la fora da faculdade.
Nós três estávamos na mesma turma do primeiro ano de jornalismo. Dani tinha uma beleza diferente, não sabia bem ao certo como explicá-la, mas era algo que me atraía. Talvez o fato de ela nunca ter dado ouvido para as minhas conversas, ao contrário do que as outras garotas faziam, tenha aumentado minha paixão.
No entanto, no campus da faculdade não dava para conversar direito com ela, pois Dani estava sempre muito focada nas atividades do curso ou do diretório acadêmico. Também nunca a encontrava nas baladas, barzinhos ou quermesses que eu frequentava.
— Ali está ela — disse Alan apontando Dani em uma pequena aglomeração de pessoas.
Do alto de um caminhão de som, um rapaz anunciou que a manifestação ia começar. Os autofalantes tocavam o jingle de um comercial de carro, que pedia para as pessoas saírem às ruas. Os manifestantes, então, passaram a se mover. Daniela seguia à frente, segurando um cartaz que pedia saúde e educação “padrão Fifa”. Ela estava vestida com uma saia comprida, com estampas africanas, uma blusinha branca e, por cima dela, um colete jeans, com bottons de bandas de rock antigas.
Havia pouca gente e pensei que o protesto seria só aquilo mesmo. No meio daquelas pessoas, reparei que havia um idiota, também da minha turma de jornalismo, chamado Lucas, vestindo calças seguradas por suspensórios e uma ridícula gravata borboleta. Ele vivia discutindo política com Dani e batia boca com o professor de filosofia quando ele mencionava o nome do Karl Marx – um cara que eu nem sabia quem era naquele tempo e nem queria saber.
— Vai atrás dela! — disse Alan de repente, despertando-me de meus pensamentos. Você está esperando o que? Um convite? Nem parece o Marcos que conheço.
Apertei o passo para alcançar Dani, mas fui logo parado por uma moça que me ofereceu uma das pontas da enorme bandeira do Brasil que estavam estendendo por toda a faixa da avenida. Recusei.
Enquanto a moça e outros jovens sacudiam a bandeira, o grupo de Dani seguia em frente, bem depressa. Tive que passar por baixo dela para cortar caminho e tentar alcançá-la. Ao sair do outro lado, a luz do helicóptero Águia da Polícia Militar ofuscou minha visão.
Reparei que o manto negro da noite já havia coberto todo o céu. Alguns manifestantes de um movimento estudantil começaram a gritar: “Ei, burguês, essa aqui é pra vocês!”. Confesso que o barulho deles e das hélices do helicóptero da polícia em busca de algum tumulto me fez sentir medo.
Coloquei as mãos acima dos olhos e vi os longos cabelos cacheados de Dani bem longe de mim, próximos ao restaurante Bola Sete. Entretanto, não consegui chegar até lá por causa das várias faixas esticadas e pessoas segurando cartazes, que saíam e entravam na minha frente.
Em um dos cartazes li que os professores mereciam receber salários melhores do que o Neymar. Concordei. Outros pediam mais saúde e educação e pensei que não tinha como não aderir a essas causas. Ri de um cara que carregava uma cartolina pedindo a redução do preço do Marlboro. Isso seria ótimo para mim. Também esbarrei em algumas pessoas enroladas em bandeiras do Brasil, paradas para fazer selfies.
Ao se aproximarem do Hotel Íbis, os manifestantes foram para o outro sentido da avenida, para retornar à rotatória. Já não conseguia mais ver Dani. Na altura do Hotel Pekin, reencontrei Alan. Ele apontou para a rotatória da Brasília com a Pompeu:
— Olha só aquilo! — disse ele.
O local onde, até pouco tempo atrás, tinha apenas algumas pessoas, foi invadido por um mar de gente, que chegava pela Pompeu de Toledo e engrossava a marcha.
Apertando um pouco as pálpebras, consegui distinguir a silhueta de Dani lá embaixo. Mas a multidão continuava me espremendo.
E o Alan tinha sumido de novo.
Quando estava próximo à rodoviária, consegui ultrapassar algumas pessoas, trombando em seus ombros e esmagando pés. Porém, uma velha Brasília amarela me barrou o caminho. O som do carro tocava em volume alto uma música que dizia “A burguesia fede”.
Senti que o clima voltou a ficar tenso quando os manifestantes chegaram à prefeitura. Policiais do Choque cercavam o prédio e eram provocados por algumas das pessoas que participavam do protesto. Lembrei-me das repressões aos atos em São Paulo, que assisti na televisão, e meu estômago esfriou. Ao olhar para o outro lado, vi um rapaz no topo do monumento do Lions Clube. Ele estendia uma camiseta com a imagem do Che Guevara. Não sabia por qual motivo, mas senti a necessidade de tirar uma foto daquela cena com o meu celular.
Após atravessar o monumento, entrei na rua Luís Pereira Barreto a passos lentos, por causa da turba. Muitas pessoas de lojas, lanchonetes e farmácias saíram de dentro de seus estabelecimentos muito iluminados. Outras apareceram na sacada de prédios para ver os manifestantes, que lhes convidavam para o protesto. “Vem pra rua, vem pra rua!”, eles gritavam em meio a assovios, apitos e buzinas.
Ao meu lado, surgiu um grupo vestindo camisetas da seleção brasileira, segurando uma faixa com os dizeres “Morte aos políticos”. Outros integrantes estavam com cartazes pedindo “Intervenção militar já!”. Eles entoavam um hino que mandava a presidente ir tomar naquele lugar, igual ao que eu ouvia nos jogos de futebol. Um dos que gritavam me pareceu um senhor respeitável, com idade para ser meu avô. Ele, porém, xingava uma mulher que também tinha idade para ser minha avó.
Apesar de achar o governo daquela senhora um desastre, sem saber exatamente por qual motivo, perguntei-me como alguém poderia sair às ruas pedindo respeito sendo tão desrespeitoso.
Olhei por cima das cabeças e mais uma vez não consegui ver onde Dani estava. No momento em que a marcha caminhava para o seu fim, já me sentia arrependido de ter participado daquela droga. Nunca andei tanto a pé como naquela noite e não troquei um olhar com a garota. Aquele povo achava mesmo que andando tanto alguma coisa ia mudar?, me perguntei. Aliás, que ideia besta tinha sido aquela de procurar a Dani para conversar durante uma passeata política. O que eu iria dizer para ela? Você vem sempre aqui? Hoje “faz um protesto gostoso”, não é? Pensei em matar o Alan assim que o encontrasse de novo.
Ao atingir a Praça Rui Barbosa a multidão começou a se dispersar, apesar de um grupo seguir em direção à Câmara dos Vereadores. Alguns caras que estavam perto de mim passaram a chutar os tapumes ao redor da praça, que estava em reforma há muito tempo. Eles eram vaiados por outras pessoas que gritavam “sem violência, sem violência”, também em ritmo de torcida organizada. O helicóptero da Polícia Militar continuava a sobrevoar minha cabeça, lançando luzes no entorno da praça.
Foi quando vi Dani e algumas amigas dela, à minha direita, tirando fotos. Era a minha chance!
Mas, alguns gritos fizeram com que eu voltasse a atenção para a esquerda, onde o babaca do Lucas estava puxando a bandeira vermelha de um casal de idosos sem-terra. “Sem partido, sem partido”, ele berrava, dando um banho de cuspe nos dois.
Não consegui deixar de pensar nos meus pais ao ver a mulher e homem acuados. Os olhos cansados daquele senhor lembravam os do meu pai. Decidi ajudá-los. Além disso, já fazia muito tempo que eu queria dar uma lição naquele trouxa que se achava demais na sala de aula.
— Para com isso, brother — falei para Lucas, que me empurrou.
— Sai daqui seu idiota! Comuna! — ele gritou.
Eu revidei com um murro, que transformou o nariz dele em um chafariz de sangue. Lucas levou as mãos ao rosto, para conter o vazamento. O casal sem-terra aproveitou a oportunidade para fugir. Ele olhou para as mãos ensanguentadas e depois olhou para mim. Em seguida, gritou. Armei meus punhos para a briga inevitável.
No entanto, dois policiais militares vieram em nossa direção, com cassetetes prontos para racharem nossas cabeças.
Corri como um ladrão flagrado em um assalto. Contornei a praça e segui pela rua Prudente de Morais. Depois, dobrei a Quinze de Novembro e peguei a Joaquim Nabuco. Olhava de tempos em tempos para cima, a fim de ter certeza de que o Águia não estava me seguindo.
Finalmente, cheguei ao Terminal Rodoviário Municipal e pude colocar as mãos em meus joelhos latejantes. Não conseguia respirar direito e sentia umas pontadas no baço. Tudo o que eu queria naquela hora era pegar um ônibus coletivo que me levasse direto para casa.
— Eu vi o que você fez. Gostei! Aquele imbecil mereceu — era uma voz feminina que me dizia aquilo.
Levantei os olhos e vi Dani segurando uma cartolina enrolada debaixo do braço. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. De repente, esqueci que tinha acabado de fugir da polícia. Botei as mãos na cintura para respirar melhor.
— Não sou de brigar, ainda mais por política, mas não podia deixar que ele batesse naquelas pessoas — eu disse a ela. Não sei, mas senti alguma coisa estranha nessa manifestação, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer se a gente não tomar nenhuma atitude agora. Sei lá. Posso estar falando bobagem também.
— Não acho bobagem — falou Daniela. Penso a mesma coisa. Você é da minha turma de jornalismo, não é?
— Sou — respondi com um sorriso.
Um ônibus com destino ao bairro Nova Iorque parou na estação.
— Acho que é o meu — eu disse.
— Vou pegar esse também. Deve passar pelo Alvorada.
Embarcamos.
Gostou do conto? Escreva nos comentários o que achou e não deixe de curtir se você gostou. Aproveitando que o assunto são as manifestações de junho de 2013, na minha newsletter desta semana escrevi a respeito do que vi e senti em um dos protestos e o que penso sobre as consequências das chamadas Jornadas de Junho. Confira lá e aproveite para assinar gratuitamente: https://open.substack.com/pub/marcenarialiteraria/p/junho-de-2013-o-fim-da-inocencia?r=r1iar&utm_campaign=post&utm_medium=web